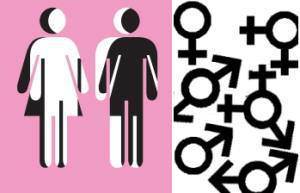A libertação está fora e acima do gênero?
Feministas radicais que se reivindicam abolicionistas de gênero frequentemente contrapõem algo da esfera dura e essencial de um sujeito em contraposição às amarras vindas de fora do gênero, como pura exterioridade. Exterioridade que funcionaria como uma camada de uma cebola, ou uma boneca russa. Esta camada social seria passível de ser tirada e posta. Isso reflete na prática e teoria feminista. Partindo deste princípio, de gênero como uma camada tira/põe, analiticamente foi possível pensar a categoria social do gênero como passível de ser abolida. O que deixa analiticamente intocável toda uma série de questões: existe núcleo duro do sujeito apartado da camada do social do gênero?
O que funciona neste discurso é a oposição profundo/superficial. Advoga-se como forma de empoderamento, neste discurso feminista radical, que as pessoas “sejam como elas quiserem” em contraposição ao gênero que seria uma simples imposição que faria com que as pessoas não sejam “como elas no fundo (essência) querem ser”. De minha perspectiva isso não faz sentido de fato, pois não existe núcleo de como o sujeito “essencialmente” é ou queria ser que esteja apartado do social, do gênero. Ora, não existe possibilidade do sujeito ser alguma coisa senão por e através do próprio sistema que desde sempre o determina. Neste caso, o próprio sistema de gênero. Acreditar que o sujeito precisa se libertar das amarras do social para viver no seu estado “natural” de liberdade, a meu ver, soa extremamente inocente e utópico. Gênero, ao contrário, funciona como o sempre já-lá da interpelação ideológica, enquanto injunção necessária ao próprio processo de produção de sentido e sua ligação com a constituição do sujeito.
O que me leva a concluir: não há formas puras e genuínas sobre “ser” que não estejam desde já maculadas pelo gênero, pelo social e suas contradições. Não há, portanto, forma de estar no mundo, de interpretar o mundo, de modificar o mundo, no feminismo, que esteja além e alhures do sistema do gênero. Tomar esta prerrogativa é afirmar que não existe movimento de contestação e resistência, como o feminismo, apartado da formação social em que se insere e da ideologia que lhe corresponde. Há relação necessária entre o gênero e o sujeito para que se produza significação e, consequentemente, resistência.
Mudamos, assim, de terreno quando nos deparamos com as dicotomias superfície/profundidade; fora/dentro; exterior/interior e mesmo legítimo/ilegítimo. Os polos destas oposições não se apartam; ao contrário, um contrário depende e existe em relação ao outro. Relação necessária que nos faz admitir a existência da superfície no profundo assim como profundidade no superficial. O gênero, desta forma, é o que há, ao mesmo tempo, de mais superficial e profundo em todo e qualquer sujeito. Tanto nos efeitos de superficialidade e profundidade produzidos na subjetividade do sujeito há sempre já lá o próprio gênero, pois gênero é ao mesmo tempo superficial e profundo; consciente e inconsciente; interno e externo; individual e social. Sua espessura e funcionamento próprio são paradoxais. Por mais que cavemos no “fundo âmago” das nossas existências generificadas, só encontraremos “sucessivas” superfícies de gênero, sem fim nem começo.
A transgeneridade não faz sentido socialmente?
“Se [gênero] fosse somente construção social, dificilmente existiriam pessoas trans”
Vamos pensar um pouco sobre o enunciado acima. Vamos rebater o argumento de que a transgeneridade deveria ter algum fundo natural porque senão nós não existiríamos ou a nossa existência seria ilógica/sem-sentido. Percebam como essa relação é, na verdade, bastante perversa? Minha intenção não se trata de refutar propriamente se gênero tem fundo biológico ou não, mas a questão que quero discutir aqui é sobre problematizar o pressuposto (como efeito de pré-construído) que sustenta o referido biologismo. O topos argumentativo que sustenta (torna possível a existência do enunciado provido de sentido em direção a determinado argumento) toma como óbvio a própria existência da opressão como algo que “impediria as pessoas de pertencerem a determinada minoria” (ou mesmo “serem”, para ser mais exata, neste contexto). Em última instância, esta perspectiva toma como natural que a resistência mesma não deveria existir porque ela seria “ilógica”. O topos argumentativo seria algo como: “quanto for maior a existência de opressão em uma sociedade, menor será a existência de determinada minoria”. Logo, se existem minorias a revelia da existência de uma sociedade opressora, há algo da ordem do ruído que aponta para o furo simbólico, ponto em que é possível observar as relações de sentidos e seus equívocos. Tomamos como uma cadeia lógica de que:
1) Se existe transfobia (por exemplo), conclui-se que 2) as pessoas não “deveriam” ser trans*. Parece uma relação estritamente lógica, mas ela encarna um discurso que toma como pré-construído que as pessoas são, naturalmente, passivas politicamente de forma a conceber suas existências avessas às formas de resistência. Diria inclusive que se trata de um discurso tão “espontâneo” sobre transgeneridade que reverbera, na formação social, com a mesma “espontaneidade” na forma como somos exterminadas do convívio e existência social. Daí a única saída “lógica” é pressupor uma determinação biológica. Percebam que a biologia não aparece em sua ordem própria, com sua cientificidade. Ao contrário, a biologia surge como mero efeito de intrusão ideológica, como em um tapa-buraco de um furo simbólico. Não se trata de negar a existência de um real apreensível pela biologia. O que eu observo aqui é que a biologia é tomada como pressuposto explicativo de um fenômeno da ordem ideológica. Neste caso, se trata de um real que diz respeito à existência de determinadas pessoas e suas subjetividades – transgêneras. Este real, que é social, é irredutível ao real da biologia. Em suma, reais diferentes, com suas ordens e funcionamentos distintos. O que nos faz perguntar…
Mas e se o nosso “motivo de existência” enquanto minoria se dá justamente pela – e não apesar – opressão? E se existência e resistência não forem vistas através desta forma de oposição irreconciliável? E se as oposições existência/resistência e opressão social/minoria fossem tomadas em um topos completamente diferente da que mencionei acima?
Está aí: eu não existo “apesar” do social. Eu existo pelo/no/para o social. O social comporta conflito, divisão e contradição. Quando vamos conceber nossas formas de habitar o mundo e nossas identidades condizentes com as formas de resistir às opressões? Quando vamos entender que a contradição social atravessa nossas vivências e identidades? Precisamos mudar de terreno quando assumimos uma relação lógica entre pertencer à determinada minoria e isso não fazer sentido socialmente. Precisamos de perspectivas que tragam sentido a nossa forma de estar e ocupar o mundo. Para tanto, precisamos fazer um grande exercício de desconstrução do indivíduo com seu núcleo duro psicológico e entender que o indivíduo, ao contrário, é atravessado pelo discurso do Outro. Aqui, o próprio indivíduo é atravessado pelo social. A diferença está em como trabalhamos – ou deixamos de trabalhar – a categoria de contradição. Mudar de topos também é uma tarefa de militantes, assim como apontar suas falhas (neste caso, a falha é atestada por esse atravessamento ideológico da biologia e, portanto, não científico) e questionar sua pretensa universalidade.